
 gmail.com
gmail.com
"Se eu puder combater só um mal, que seja o da Indiferença".
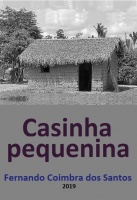
(Continuação)
IV
Maya.
Do Sânscrito.
Numa tradução (ou interpretação) livre, significa Ilusão.
Mais apropriadamente: “Cuidado, não se apegue a nada, tudo é transitório, nada é permanente, tudo na vida é ilusão”.
Uma simples e única palavra que, como muitas coisas na vida, dizem infinitamente mais que alguns poucas letras agrupadas, não é mesmo?
Porque agora eu me via outra vez, pequenino, dentro de um trem de passageiros na estação. Aguardando a partida.
Para onde? Não sabia. O pequeno tíquete acartonado da passagem está em minha mão também tão pequena, mas ainda não sei ler. Tíquetes como os dos bondes, que também desapareceram da minha vida, das nossas vidas.
Do outro lado da janela, outro trem, também de passageiros.
Ouço então o som do apito, lamentoso, triste. Como se, além de anunciar a partida, também se despedisse dos que ficavam ou se despedisse daqueles que nunca mais iriam voltar.
A partida de um trem é lenta, muito lenta, como se o comboio relutasse enfim seguir viagem.
O porquê da Ilusão? Porque, mesmo em minha pouca idade, o quase imperceptível deslocamento do trem que se colocava em movimento não me possibilitava dizer se era o meu trem que enfim estava se pondo a caminho, ou o outro. Ou saber para que lado o trem realmente seguia.
Seria isso um simbolismo de que uma etapa de minha vida estaria se encerrando e outra se iniciando?
Ou o alerta de que nada seria uma certeza?
“Cuidado, não se apegue a nada, tudo é transitório, nada é permanente, tudo na vida é ilusão”.
Como saber?
Como saber se eu estaria indo de encontro às minhas lembranças, de encontro à minha praia, ou me afastando inexoravelmente delas?
Em meu possível desvario (sonho?) eu me vejo pequeno e sozinho.
Agora estou em São Paulo, um São Paulo antigo que reconheço como da década de 50.
Deixei a Estação da Luz para trás, caminho lentamente por uma longa rua Mauá, meu destino é a rodoviária na Praça Júlio Prestes, hoje extinta.
O que era um grande ponto de chegadas e partidas se tornou um grande ponto de encontros de usuários de drogas e desencontros de vidas sem rumo.
Procuro o antigo ônibus do Expresso Rodoviário Atlântico que me levará até meu Ubatuba.
Oscilo dolorosamente entre a incongruência de um passado tão distante com um presente tão sem poesia. De repente o antigo ônibus que me transportará para meu sonho se revela fugazmente um moderno veículo da Litorânea. Nem o nome é o mesmo.
Vejo desconsolado, na plataforma ao lado, outro ônibus da minha infância tão distante que também se perdeu no tempo. De repente o ônibus que atendia todo o Vale do Paraíba, o Pássaro Marrom, foi substituído pelas cores vermelhas do Expresso São Jorge. Continua a ser chamado de Pássaro Marrom, mas isso é só um lembrete talvez saudosista demais.
Então me vejo, com um quase pânico, parece que eu me transformei num golfinho que nada solitário num horizonte perdido e indecifrável onde a escuridão da noite está no mar e não no céu tão claro, numa inversão que não sou capaz de entender ou aceitar.
O nado é ondulatório, mergulho fundo e salto para fora d’água também muito alto, mergulho nas profundezas de minhas lembranças que pouco conheço e salto para a claridade débil na qual realmente vivo, mas...
Meu ônibus parte, vejo pela janelinha o rio Tietê onde algumas canoas de competição deslizam mansamente nas águas ainda não irreversivelmente poluídas.
Vejo incrédulo, como se fossem lampejos irônicos e alternantes da paisagem antiga destroçada pela moderna, do outro lado do rio, os campos verdes onde não havia uma única casa hoje estão tomados pelos tentáculos de um polvo voraz e impiedoso que aguilhoa a cidade em todas as direções.
O ônibus adentra a Via Dutra. Como num delírio febril, vejo vezes sem conta que a pista única sem canteiro central foi engolida por uma rodovia de faixa dupla que nunca será suficientemente grande para comportar os veículos que agora passam por ela talvez a caminho de lugar nenhum que ainda valha a pena.
Mas grande o suficiente para transportar minha angústia.
Aturdido, olho inutilmente para tudo em busca de pontos de referência que não existem mais, e me acabrunho com o que não vejo.
Onde foi parar a fábrica Duchen, como se fosse uma grande lagarta em forma de coração?
Onde estão as latas azuis do Biscoito Jacareí, vendidas em barraquinhas informais à beira da Dutra, a céu aberto?
Então meu ônibus margeia um São José dos Campos grande demais, uma megalópole que talvez ainda não tenha se desumanizado o suficiente.
Meu Deus, onde está a estradinha de terra que hoje se transformou no asfalto conhecido como Rodovia dos Tamoios?
Onde estão as raras vendinhas ao longo da estrada, que ostentavam o letreiro com a garrafinha marrom da Crush?
Ou a garrafinha verde do 7 UP, o Sevenap?
Onde está o belvedere no alto da Serra do Mar que descortinava o mar, tantas praias, ilhas e toda Caraguatatuba e Ilhabela?
Onde estão?...
Começo a vacilar diante da constatação que aconteceram muitas mudanças, mudanças demais.
Mas é tarde, muito tarde. Preciso voltar, quero voltar, tenho que voltar para um passado que talvez não exista mais.
Há muito deixei de ser um passageiro naquele ônibus, há muito, agora, continuo a nadar solitário em ondulações escuras que se alternam com as pálidas, inexplicáveis, indecifráveis, incompreensíveis...
Talvez, de certa forma, eu estaria mergulhando em minhas lembranças tão escuras e saltando teimosamente de volta para as vivências tão desencantadas que eu me recusava a viver?
Vejo a praia do Saco da Ribeira desfigurada por infinitos barcos e lanchas. Procuro mas não encontro a jaqueira que ficava ao lado da casa de minha tia Ana e tio Bidito, que não existe mais.
Nem eles, que estariam abraçados na varandinha a me acenar boas vindas.
Há um silêncio comovido naquilo tudo, não ouço a violência das águas da Praia do Sununga, onde a Gruta que Chora chorava para cada um de nós que nela entrava.
O vento da praia se tornou fraco demais, as árvores e arbustos quedam imóveis e vejo observadores como se estivessem apenas aguardando o instante de se tornarem possíveis testemunhas de um acordar feliz ou de um acordado-amargurado que a minha vida se tornara.
Os pequenos riachos não existem mais, regatos que cantavam o que deveria ter sido um perpétuo hino de louvor à Natureza e às coisas belas.
Não consigo ouvir mais o suave e familiar sussurro das águas que há tantos anos serviram de inspiração e motivo para batizar um hotel com o nome mais poético que seria possível, o Solar das Águas Cantantes.
Meu ônibus, meu condutor de amarguras, enfim me deixa num ponto à beira da estrada.
Cheguei.
Pelo menos, assim o esperava, assim o queria, em meu coração pequenino demais.
Porque fiquei atônito, de pé, num local que quase não reconheço mais, não é mais o mesmo, que nunca mais será o mesmo.
Bem ali do lado, do outro lado da Barra do Julião, o primeiro morro mais alto sempre verde.
Que agora me parecia sorrir desconsolado, tristemente, como se estivesse envergonhado, como se estivesse se desculpando com o que haviam feito a todos nós.
Ao longe, o pico do Corcovado, emoldurado por um céu azul que agora não me parece tão azul como poderia e deveria estar.
O próprio vento que me trazia o perfume da mata e das flores, temperados com a saudade da maresia, hoje parece estar em algum outro lugar desconhecido e irrecuperável.
Não ouço os passarinhos, não ouço as cigarras que embalavam as tardes calmas, não vejo as borboletas-azuis que nos conduzem e fazem a transição para uma terra melhor do outro lado da ponte do arco-íris.
Mas, agora, volto a ser o pequenino que nunca deveria deixar de ter sido, estou parado estarrecido à beira de uma estrada que poderia ou deveria ser sempre a estrada da minha vida.
O pequeno armazém do Aristides, a venda do Aristides, não existe mais.
A casa de meu tio Valde não existe mais, as árvores centenárias que a abrigavam foram cortadas. Ou morreram de saudade, não o sei bem.
A vendinha do Miguel Cabral também se foi para nunca mais voltar.
Atravesso com cuidado o asfalto movimentado no qual a estradinha de areia branca praticamente sem veículos também não existe mais.
Do outro lado, na antiga Rua “B” (com outro nome, homenageando o Pedro Cabral Barbosa), a casinha do DER onde morava minha tia Jane, tio Vitor e os primos também foi demolida.
A ruazinha de areia branca continua estreita. Mas agora, em seus lados, não existem mais as árvores que me deram sombra e, às vezes, cajus em minha infância, agora há dois paredões contínuos de muros impessoais, casas enclausuradas de desconhecidos, poesias sem rimas, versos de músicas sem melodias, ausência de sentimentos, nada, nada, nada.
Muros altos, muito altos, quase muralhas. Muros de alienados que desconheciam e desconhecem a indiscutível verdadeira realidade: muralhas não nos protegem, elas nos isolam.
A capelinha branca, ao lado da qual havia um doce pé de araçá, também se foi, em seu lugar foi construída uma maior, mas sem o aconchego das lembranças que a anterior possuía em seus significados tão distantes e tão sagrados.
Reluto seguir em frente, o pouco que já vi já é demais para mim. Mas...
V
É...
Como bem disse Richard Bach: “Quando você chega ao término de toda luz que você conhece, e está a ponto de dar um passo na escuridão, fé é saber que uma destas duas coisas vai lhe acontecer: vai haver chão, ou você vai ser ensinado a voar”.
Haveria chão?
Eu seria ensinado a voar?
Ou?...
Fé?...
Com um sorriso amargo que não me chega aos lábios eu me lembro de uma historinha bonita e apropriada.
“- Vamos, filhote! Vá para a beira! Não é esta sua meta?” – disse a borboleta ao filhote de águia.
“- Sim, borboleta! Esta é a minha meta! Mas ali é muito perigoso, eu tenho medo, muito medo de cair e não voltar” – respondeu o filhote de águia.
“- Dê um passo por dia rumo ao abismo, se esta é realmente sua meta!” – disse a borboleta.
O filhote de águia chegou bem na beira do abismo. Ali fechou os olhos, deu o passo definitivo, e então caiu precipício abaixo, sem defesa. Em meio à vertiginosa queda, descobriu que podia voar.
Sei – você me diria – mas você não consegue ser uma águia.
É... não consigo. Nunca fui e nunca serei.
Mesmo porque nunca vi sequer uma águia em minha limitada vida.
Fosse eu um filhote de águia, se tivesse a coragem suicida de dar o último passo do ninho, e se eu descobrisse que não podia voar, o que seria de mim?
Estou atordoado, sinto-me febril naquele lugar que desconheço e onde procuro quase que inutilmente referências que me tragam para o passado que conheço tão bem.
Um grasnido se faz presente bem a meu lado. Não é uma águia, nunca o poderia ser, é uma gaivota. Uma linda, inesquecível e maravilhosa gaivota.
Como se fosse um segundo sonho do qual eu nunca iria querer despertar, eu me vejo diante de uma gaivota pura como a luz das estrelas.
E o brilho que se desprende dela sobrepuja em muito a claridade do dia ensolarado em que eu estou imerso.
Doces recordações começam a surgir timidamente em minha mente, como se fossem relâmpagos que lampejassem ao longe num entardecer distante, talvez inacessível, talvez impossível.
Como se me dissessem baixinho: “- Estamos aqui, mas talvez muito longe do seu alcance...”.
Porque, nas conversas entre parentes, nossas conversas tomavam rumos diferentes, até surpreendentes. Parecia que, de certa forma, cada um havia escrito o mesmo capítulo de forma diferente, parecendo memórias inexatas, inacabadas, esfiapadas, esfarrapadas, desencontradas.
Parecia que nossa vida consistia basicamente de recordação e solidão, em lembranças assimétricas e não concatenadas que se estendiam para toda parte, evasivas, incongruentes, insensíveis, impessoais.
Recordações silenciosas que não se exibem, mas que nos fazem sorrir, mesmo que isso fosse uma forma instintiva e não declarada ou reconhecida de defesa.
É de fato a história, a nossa história, mas quando a recordo, quando a recordamos, às vezes não parece ter acontecido de verdade. Mas é. Mas foi.
Em nossas conversas, nossas histórias sempre ecoavam bem nostálgicas. E rarefeitas em seus detalhes que, nem por isso, deixavam de doer.
Como se fosse um espectador privilegiado – e não um dos figurantes principais – eu consigo ver e sentir como uma lembrança se relaciona com outras que acabam se revelando estarem sempre ali do lado. Como se fosse uma espiral que deslocasse uma pequena parte da história de cada um, de seus sentimentos, dores e perdas particulares, para o todo que se tornou nossa família indistinta e talvez incoerente em nossas lembranças.
É, talvez eu devesse ir embora.
Melhor voar nas asas do sonho, em busca de minha própria salvação.
Mas minhas asas – se é que as tive um dia – ficaram lá atrás, perdidas em algum lugar lá atrás.
Do nada (?) surge uma lembrança há muito esquecida. Um dia eu ganhara uma pequena barquinha de lata onde se acendia um pequeno pavio.
A água da caldeirinha esquentava, a barquinha começava a se mover com um toc-toc suave e acalentador, transportando minhas lembranças de um mar que agora era uma simples bacia com água.
É, conduzindo minhas fantasias.
Fantasias tão vívidas, que nem era preciso o era-uma-vez das histórias encantadas, minha história, minha própria história, já era encantada, nela estava sempre presente uma fada chamada Felicidade.
E por alguns momentos não havia gigantes malvados e nem o monstro da distância e da separação.
E eu viajava nas águas sempre azuis da fantasia, as águas sempre azuis de meus sonhos, por alguns momentos que fossem eu conseguia que minha barquinha me levasse para a terra da qual eu nunca deveria ter saído.
Num dia de desalento, de desencantos (e eram tantos, meu Deus), eu coloquei a barquinha nas águas do meu sonho, para que ela navegasse como uma barquinha de verdade e, se possível, me conduzisse para o lugar onde eu realmente queria estar.
A barquinha desatraca da margem do que foi a bacia. A bacia agora é um riacho, o riachinho que corria também feliz ao lado da casa de pau-a-pique e sapê de minha avó Maria.
Incrédulo, vejo meu sonho se transformar num pesadelo, porque eu não estava dentro da barquinha que começava a adentrar um longe longínquo demais.
E eu corri atrás dela pela margem, aflito, desesperado, mas não fui rápido o suficiente, não fui rápido o bastante, fiquei preso nas ramagens delicadas das perfumadas ciosas que balouçavam tristes, como se fosse uma despedida mais triste ainda.
Como se, de alguma forma inconcebível, estivessem tentando me reter para sempre onde eu deveria estar, para que eu nunca partisse, para que eu nunca fosse embora.
E a barquinha lá se foi, perdeu-se ao longe, deixei de ouvir o toc-toc, mas de alguma maneira inexplicável ela estava alcançando o oceano, e o atravessou até o país dos sonhos perdidos, onde atracou para sempre.
Ainda que eu estivesse de coração partido, ainda que não soubesse se estava chorando pela barquinha que não me levara ou pela aterradora certeza de que eu nunca voltaria para meus sonhos, nunca me seria permitido fazê-lo, eu nunca conseguiria fazê-lo.
Dizem que tudo que se quebra pode ser arrumado. Mas, um coração?
Pedacinho a pedacinho, dia após dia, com o progresso medido por pequenas vitórias, tudo pode ser reparado, dizem. Fé e trabalho duro vão fazer isso, e então a vida de repente diz que não, que as quebraduras estão piorando, como se isso fosse possível.
Fiquei flutuando à deriva, uma pessoa só em uma canoa sem remos.
Então, barquinha perdida em meus sonhos de criança, voltei-me para a casinha de pau-a-pique e sapê de minha avó, sem saber ao certo se era uma casinha onde os sonhos se tornavam realidade ou se a casinha em si era feita de sonhos.
Houve um tempo em que este sentimento indefinido me deixava feliz, só por ele existir. Mas algumas vezes eu ficava perdido, meus sonhos se transformavam em pesadelos de criança e os monstros se agitavam em meu coração.
Fiquei ali de pé por um longo tempo, quem me visse à distância jamais poderia supor uma só daquelas emoções que sentia sem demonstrar, emoções que se agitavam em mim num turbilhão de irremediável e indisfarçável tristeza. Porque bastava apenas olhar em meus olhos e...
Frequentemente eu sonhava com minha barquinha à noite, sempre navegando para sempre em meus sonhos. Quando despertava, mesmo anos depois procurava me iludir dizendo para mim mesmo que era só uma fase. Mas não era só uma fase, era a minha história inteira.
Sei – você me diria – você foi um bom menino.
Ao que, talvez, eu replicasse, uma expressão de miséria em meus olhos suplicantes:
- E você, também se tornará uma lembrança? Só uma lembrança?
Porque, de certa forma, tudo era recorrente, tudo voltava outra vez.
Anos depois, lembranças da luz oblíqua de tardes de pouco sol, das gotas de chuva da saudade quase transparentes, algumas festas de fim de ano com alguns familiares, colocando a conversa em dia depois de longos períodos de ausência.
Canecas e pires, pratos de sobremesas polvilhados de recordações esfareladas, a sensação de que aquele momento era único, especial, momento que talvez nunca mais se repetisse, a sensação de que nunca mais conseguiríamos conversar daquele jeito, lágrimas que se externavam em conversas plenas de palavras que quase não conseguiam serem ditas.
Porque queríamos contar, sem o poder, sem o conseguir devidamente, o que havíamos feito e o que não conseguíramos fazer, o que havíamos dito e o que ficara por dizer.
Há muito, muito tempo, cada um de nós ansiara e ansiava por falar com alguém que nos entendesse, que nos compreendesse, sobre nossos sonhos, o que poderia ter sido. Mas as interrupções se sucediam, o fio da meada se perdia, os assuntos pareciam que jamais iriam se entrelaçar numa tapeçaria imaginária outra vez.
Ás vezes um detalhe ou outro se perdia, um detalhe ou outro fundamental, imprescindível, necessário para revelar, mais que recordações, momentos sobrevividos.
Momentos em que nos dávamos as mãos e, de certa forma, começávamos a brincar de roda, entoando cantigas infantis que nunca foram escritas mas que, nem por isso, deixavam se ser verdadeiras, nem por isso deixaram de ter acontecido em nossas vidas de sentimentos esfarrapados.
(continua)
(continua)