
 gmail.com
gmail.com
"Se eu puder combater só um mal, que seja o da Indiferença".
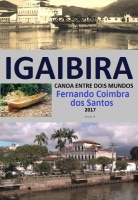
(continuação)
III
Tia Dolores procura minha pequena mão e a segura. Ainda hoje, passados tantos anos, ainda posso sentir meus dedinhos miúdos envolvendo os dela, como se de alguma maneira maravilhosa e inexplicável isso pudesse acontecer. Buscando segurança e amor.
Estávamos caminhando pela praia da Enseada, tínhamos que atravessar todas as barras para chegar ao outro lado onde, no morro do Maciel, ficava a escolinha primária. E a maré estava subindo. De vez em quando o mar cobria quase que totalmente a areia branca, tínhamos que correr e atravessar antes que ela voltasse outra vez.
Abraçou seus cadernos, começou a correr, puxando-me pela mão e gritou:
- Corre, Fer, corre...
Chegamos na escola dando risadas, sei lá do que. Bati a areia dos pés, ela me calçou a pequena sandália de couro. Por um momento, apesar da pouca idade, olhei para seus pés descalços e senti que em minha tia havia alguma coisa errada, muito errada. Mas não tive coragem de perguntar o que seria. Mesmo porque aquela coisa errada que eu sentia nela era para mim perceptível em toda a família de minha avó materna. Em todos os caiçaras que moravam e viviam naquele meu Perequê Mirim.
Alguma coisa indefinível e desconhecida me murmurava sempre ao ouvido: “ – Não pergunte, não pergunte, nunca pergunte...”.
Como eu também não perguntava o porquê de papai e mamãe trazerem lá de Araraquara muitos mantimentos no porta-malas do Chevrolet 51 que eram recebidos por vovó Maria da Graça e meus tios e tias com tanta alegria e júbilo. Não sabia que, pelo menos por algum tempo, a fome deles não seria tanta.
Estávamos atrasados. Minhas perninhas não conseguiam acompanhar seus passos, e eu já estava pesado demais para que ela me carregasse.
Por um momento deixou-me junto à porta. Foi falar com a professora, não sem antes arrumar com um gesto de carinho meu cabelo na testa e me dizer que a esperasse ali, que ela voltaria logo.
Cumprimentou a professora que me olhava amigavelmente, e pediu:
- Professora, este é meu sobrinho. Será que ele pode assistir a aula hoje comigo?
A professora concordou, mostrando no sorriso que me dirigiu que eu era bem vindo.
Deslumbrado, nos meus quatro anos corri até minha tia, agarrei-me em sua mão, fomos até sua carteira lá na frente, eu com o coração batendo forte. Sem coragem de olhar seus coleguinhas de classe que também sorriam para mim, para nós.
Era uma velha carteira de madeira, o tampo se erguia para que se colocasse sob ele o material que não estivesse em uso. Na parte fixa do tampo havia um pequeno rebaixo que evitava que o vidrinho de tinta caísse. Escrevia-se a lápis, e uma caneta com bico de pena metálica que volta e meia tinha que ser mergulhada no tinteiro.
Tinta Parker. Azul Real Lavável. E Azul Permanente, esta era difícil de tirar das mãos e praticamente impossível de ser removida das roupas.
Sentado naquela cadeira tão grande para meu tamanho, eu praticamente nada via do quadro negro que ficava atrás da professora.
Tia Dolores arrancou uma folha do caderno e me deu um lápis para que eu fizesse alguma coisa. A aula continuou e eu ali fiquei até um pouco deslocado, sem saber o que fazer, sem saber o que acontecia.
Fizeram uma porção de contas, coisas que eu não sabia o que eram. Fiquei a olhar a sala, já arrependido de ter pedido para vir com ela. Estava com medo, na realidade.
Era uma sala também construída no sistema caiçara, o pau a pique. Mas era coberta por telhas de barro aparentes, sem forro, fiquei olhando por algum tempo uma casinha de marimbondos que havia bem lá no alto.
Uma das paredes tinha uma prateleira de madeira onde havia materiais escolares e alguns livros. Ao lado da professora, num cavalete, estavam presas diversas folhas grandes que eu desconhecia.
Ensaiei baixinho algumas perguntas, tia Dolores me recomendou silêncio.
Um longo tempo se passou. Então a professora trouxe aquele cavalete com as folhas grandes, colocou-o diante da classe para que todos o vissem bem, selecionou uma das folhas e pediu para que a os alunos fizessem uma tal de redação.
- Tia, o que é redação? – perguntei num murmúrio quase inaudível.
- É uma história – explicou ela, cochichando. – Temos que fazer uma história sobre aquele desenho.
Mesmo passados tantos anos, ainda hoje vejo com detalhes aquela gravura colorida que me marcou tanto.
Uma sapataria. Um homem sentado a um banquinho segurando um martelinho consertando um calçado. De pé, a seu lado, uma menininha de vestidinho florido lhe entregava um sapato que também precisava de reparo.
Sem nem mesmo saber porque, encolhi-me na carteira. Cautelosamente olhei em torno. Até onde consegui, não vi uma única criança que não estivesse com os pés descalços, creio que só eu e a professora os possuíamos.
- Será que as crianças sabem o que são sapatos? – perguntei silenciosamente a mim mesmo, ao mesmo tempo que escondia meus pezinhos sob a cadeira, inexplicavelmente cônscio da disparidade social que subitamente se abriu cruelmente entre mim e o resto da classe.
Eu morava a mais de quinhentos quilômetros dali, era filho de um engenheiro, se bem que ainda não soubesse exatamente o que era isso em minha pouca idade.
Mas sabia que papai tinha um carro que eles não tinham. Sabia que papai tinha uma casa bonita que eles não tinham. Sabia que papai tinha tantas, tantas coisas que eles não tinham. Sabia, enfim, que de alguma forma estranha e inconcebível, eu era diferente deles, mesmo não tendo ainda a mínima ideia do que fosse ser rico ou ser pobre. Só sabia, sentia, que ali havia alguma coisa errada, muito errada, coisa que eu não tinha condições de precisar e tinha medo de enfrentar.
Nunca mais voltei àquela escola, não tive coragem, ficava simplesmente olhando minha tia se afastar pisando a areia quente com seus pés descalços. Lá adiante, antes que a virada da trilha a tirasse de minha vista, acenávamos um para o outro uma despedida muda.
Um sorriso lindo, indescritivelmente lindo, que simplesmente extravasava de seus lábios, atingia seus olhos esverdeados e se esparramava pela vida, se derramava e coloria maravilhosamente o meu mundo de criança.
Alguns anos mais tarde, praia da Enseada, outra lembrança me dói fundo.
No canto direito da praia, cerca de duzentos metros mar a dentro, um pequeno recife emergia parcialmente, o chamávamos de lajinha.
Talvez eu tivesse uns dez anos, mas nadava facilmente esta distância, na maior parte das vezes sozinho. Nunca fui um grande nadador, nunca tive grande velocidade, mas devagar eu ia bem longe, com segurança. Como se fosse um corredor maratonista de longa distância cujo prazer não seria exatamente vencer, mas chegar ao objetivo final.
Lembro-me que eu entrava lentamente na água fria, caminhava até ela me chegar à cintura, começava as braçadas vagarosas, cadenciadas. Quando chegava ao recife já me dirigia para uma pedra chata escondida, praticamente em nível, que ficava cerca de um metro abaixo da superfície.
Ficava ali por alguns momentos, até que a respiração se normalizasse, só então subia para outra pedra que se destacava sobre a superfície, e nela ficava sentado olhando a praia ao longe, o sol brilhando e arrancando reflexos prateados mesclados de dourados da água sempre azul.
Fechava os olhos, deitava-me na pedra lisa, ouvindo indistintamente os gritos das crianças que estavam lá longe, lá na areia branca da praia, gritos intercalados ao vago barulho da maré de encontro ao recife, às vezes o raro grito de uma gaivota.
E sozinho, de certa forma longe de tudo, eu me sentia em paz com o mundo. Sentia-me em paz comigo mesmo, parecia que naqueles momentos não existia mais ninguém no meu Ubatuba, só eu, ninguém mais.
A mesma estranha sensação de alheamento e um isolamento que não atingia a solidão, mas apenas o fato de estar sozinho sem dividir meu precioso tesouro com ninguém, com mais ninguém.
A mesma sensação de quando chovia, e o ruído das gotas de chuva contra as folhagens das árvores simplesmente precipitavam o dia num plano de existência atemporal e diferenciado, único, precioso, uno para comigo e indivisível.
Já na praia do Perequê Mirim eu estava sempre acompanhado por tio Nelson, apenas duas semanas mais velho que eu em idade.
Também na costeira direita, na chamada Barra do Julião, a água fria que vinha do sertão atingia a praia após passar por diversas pedras esparsas em meio às águas rápidas e volumosas.
A barra não se desenvolvia em linha reta, mas descrevia um arco para a esquerda, justamente onde uma grande pedra – ou a maior delas – servia como divisor de águas. A barra ficava concentrada naquele ponto, o que significava que ali era mais fundo.
Como um passarinho que conhecíamos como Cachaca frequentemente estava sobre ela, eu e meu tio começamos a chama-la de pedra cachaca.
Atravessávamos a nado a corrente fria, subíamos com cuidado na pedra lisa, e mergulhávamos ali vezes sem conta.
Mas a barra tinha outras possibilidades de aventuras.
Cada um com uma peneira, subíamos lentamente, batendo-a sob o mato ralo parcialmente dentro da água que marginava a barra, dali tirávamos os negros e saborosos camarões cafulas e os peixes amborês. Mesmo ficando com as pernas, braços e costas praticamente devorados pelos borrachudos que não nos davam trégua.
Para quem não sabe, o borrachudo só consegue viver em locais não poluídos, constituindo um parâmetro da pureza ambiental de uma região. Ubatuba era assim.
A água que vinha do sertão, pura, fresca e cristalina, era captada em bicas de bambu lascados ao meio no sentido do comprimento e as porções de material dos nós internos removidas para que a água fosse canalizada.
Não era levada a lugar algum, desaguava ali mesmo logo em seguida, um respeito mudo e singelo pela mãe-natureza que era preservada e respeitada em todas as suas formas.
Não havia detergente, nem sapólio, nem bom-bril, havia a areia grossa que deixava as panelas de vovó Maria brilhantes e polidas como um espelho de cristal.
A agua era pura. Não existe até hoje – apesar de toda esta discutível tecnologia – uma forma de se obter uma água com a qualidade daquela. Podia, sem qualquer favorecimento, ser considerada uma água sagrada como tantas outras coisas eram sagradas na vida simples dos caiçaras de então.
Naquele tempo o caiçara, espiritualmente, era abandonado à sua sorte. Ou talvez, mais precisamente, era deixado nas mãos de Deus. As praias eram distantes da então pequena cidade, só havia padre em Ubatuba. Apesar das teimosas capelinhas em cada praia, raras eram as vezes que um padre de verdade lá rezava uma simples missa.
Este foi o motivo da rápida e inevitável proliferação das igrejas evangélicas, o caiçara começou a se sentir assistido, sempre havia um pastor residindo na praia. Praia no sentido de bairro, por mais longínquo que fosse.
Mas, antes que isso acontecesse o caiçara, apesar de tudo, era um povo realmente religioso, intensamente católico. Uma religiosidade sentida no mais profundo de seu ser, no mais profundo de sua alma pura e simples.
Não uma religiosidade pregada, mas ensinada e transmitida pelos pais e ascendentes, uma religiosidade quase que visceral, intuitiva.
O respeito do caiçara pela natureza era a principal demonstração e prova viva de seus sentimentos e dependência por um ser maior.
Fosse ele questionado, talvez assim pudesse se expressar, caso soubesse o que estaria testemunhando e, principalmente, dizendo:
- Creio em Deus. O Deus “X” sob qualquer denominação. As igrejas e as seitas, as religiões de todas as espécies, são monopólios. Deus é como a água que surge das montanhas e forma os arroios os rios. Lá vão os homens recolher a água em garrafas, alguns em detestáveis garrafas, outros em belas garrafas. E depois as vendem, dizendo: “Somente esta água aplacará sua sede”. Mas frequentemente acontece que perderam já todas as suas boas propriedades. Pode-se bebê-la melhor no côncavo das mãos, ajoelhado junto à bica.
Jamais diriam isso nestas palavras, pois eram todos praticamente uns iletrados, analfabetos, mas que na simplicidade da vida em que viviam, em que estavam irremediavelmente imersos, tornavam-se sábios. Não saberiam dizê-lo, mas verdadeira e inquestionavelmente o sentiam, o viviam, o transmitiam.
E lá estavam todos os caiçaras ajoelhados junto às bicas, tomando água no côncavo das mãos, sem saberem que esta analogia os aproximava e os mantinha junto a Deus.
IV
E um dia eu, pequenino, estava de pé num calçada estranha, numa cidade estranha.
Ali não havia conhecidos, não havia mar, não havia areia, não havia a família de minha avó e avô maternos.
Não me lembro da longa viagem, lembro-me apenas de papai com um pedacinho de papel na mão direita batendo palmas na casa vizinha e perguntando:
- É esta a nossa casa? – indagou, como se somente isso explicasse tudo.
Mas explicou, confirmaram que era a casa que estivera vaga e nos fora alugada lá numa tal de Araraquara.
Lembro-me que olhei com curiosidade a fachada de nossa nova casa. Um degrau levava à varandinha frontal, do lado esquerdo o grande portão que dava acesso à garagem situada lá no fundo do terreno.
Mas o que me marcou mesmo foi o endereço: avenida Dr. Leite de Moraes, 222.
Lembrei-me imediatamente de meus tios lá em Ubatuba, que às vezes, sob a luz fraca da lamparina, jogavam víspora, hoje conhecida como bingo,
Marcavam os números sorteados com grãos de milho.
O “22” era uma peça constituída por um pequeno cilindro de madeira onde, numa das faces circulares, um saliente anel em vermelho circundava os dois algarismos, sempre nominada por eles como sendo “dois patinhos na lagoa”.
A nova casa, para mim, acabara de se tornar “três patinhos na lagoa”.
Mas a nova casa, a nova cidade, apesar das muitas novidades, nunca me encheu os olhos. Eu sentia falta da praia, dos avós e tios que lá deixara, da praia onde ia tão pouco. Sentia falta da cantoria estridente e interminável das cigarras. Sentia falta das flores roxas das quaresmeiras nos morros. Sentia falta do cheiro da maresia, das flores, dos passarinhos, do perfume das ciosas que cresciam à beira dos rios. Sentia falta do meu Ubatuba.
Apesar de que Araraquara tinha algumas novidades que eu desconhecia. Muitas, na verdade.
Na época era uma cidade relativamente pequena, mas já bem maior que o vilarejo que era a cidade de Ubatuba. Relativamente pequena, mas discriminatória. Estranhos ali não eram bem vindos.
A Estrada de Ferro Araraquarense dividia a cidade em duas: a parte inferior onde ficava o centro, e a superior, olhada com desdém pela maioria da população.
Um pontilhão ligava as duas, acessando a Vila Xavier, onde fomos morar.
Papai, com seu infinito carisma, levou pouco tempo para ser aceito e ficar conhecido na cidade como o “Doutor João da Vila Xavier”.
Uma das novidades foi a praça da igreja de Santo Antônio, onde nos meses de Junho aconteciam quermesses que atraíam toda a cidade.
Havia um ponto alto nestas quermesses: exatamente o jogo de víspora.
Tia Jane veio passar uns tempos conosco. Conheceu um rapaz que a levou para a festa. Naqueles tempos as moças tinham horário para chegar em casa, e o rapaz a retornou pontualmente, voltando sozinho para a quermesse.
Na manhã do dia seguinte, atrás do portãozinho de madeira que fechava a varandinha, a delicadeza de um presente: um litro de Vermute que ele ganhara numa das rodadas.
Nunca soube o nome dele, mas o apelido “Vermute” – pelo qual ficou conhecido – perdurou para sempre. Mas com carinho, sem maldade, apesar dos risos que isso sempre provocava quando arreliávamos nossa tia que se fingia ofendida.
Mas, como dizia, eu me sentia solitário (mais que nunca) e sofria com a falta do meu Ubatuba, se bem que não revelasse e não deixasse transparecer isso para ninguém.
Qual uma doença – e não deixava de ser – eu poderia chama-lo de Banzo, a doença que matava escravos nos porões infectos dos navios negreiros: saudades da terra natal que jamais voltariam a ver.
Hoje eu explicaria esta doença com a delicada historinha do médico e do paciente:
“E o médico perguntou: - O que sentes?
E eu respondi: - Sinto lonjuras, doutor, sofro de distâncias.”
Lonjuras e distâncias que se tornavam mais nítidas, mas vívidas, mais perceptíveis, nos dias de chuva. Chuva ansiosamente esperada e desejada, porque só isso (afora minhas lembranças) me deixava ficar mais próximo de meu Ubatuba e, principalmente, do que lá deixara.
O terreno entre o portão e a garagem não era pavimentado, era coberto por uma camada de areia grossa amarela que ajudava a manter a casa mais protegida do característico barro vermelho do solo de Araraquara.
O espaço junto ao portão era o meu refúgio. Era o único lugar onde podiam ser encontradas duas ou três poças de água de chuva que vinham dos condutores das calhas. Que se tornavam o meu Ubatuba em minha mente fantasiosa e até defensiva de criança.
Sozinho, mas não solitário, tinha minhas lembranças bem ali, onde ficava horas e horas brincando num mundo de fantasia que para mim era real, bem real, o meu mundo, o único que eu realmente queria e precisava.
Para os olhos de um adulto eu simplesmente brincava com pequenos pedaços de madeira na água. Para meus olhos de menino, para minha alma e coração de menino, eu brincava com a canoa de igaibira de meu vovô, estava sempre com ele, nunca me sentia sozinho.
Muitas vezes, na ignorância e inconsciência de criança, eu me debruçava e sorvia um pouco daquela água na esperança de sentir um pouquinho que fosse o gosto salgado da água do mar que estava tão longe.
Até que a água se infiltrava no solo, e com ela meus sonhos e fantasias também iam embora. Olhos tristes, eu me erguia, trazia minha canoa para terra firme com o auxílio de dois pedaços de lápis que se me afiguravam os rolos necessários, guardava junto o palito de fósforo queimado que era o meu remo. E ficava impacientemente aguardando a próxima chuva.
Quando as aulas começaram em minha vida, tive problemas. Eu me aterrorizava com a classe cheia de meninos que eu não conhecia e não queria conhecer. Procurava a professora simpática de tia Dolores que me recebera tão bem, mas dona Amélia, minha primeira mestra, em nada a lembrava. E eu não tinha minha querida e protetora tia a meu lado.
Todos os colegas tinham calçados, eu não precisava mais esconder meus pés. Não havia o cavalete de temas para redação que havia se tornado tão vívido e permanente em minha memória.
A prateleira, onde ficavam os materiais na escolinha da praia da Enseada, no morro do Maciel, ali agora era um não menos aterrorizante armário no qual, segundo os colegas, a professora trancava os alunos que não sabiam fazer a lição direito. E eu, por ser o mais franzino, o pequenino da classe, recebi uma carteira bem ao lado dele, que se me afigurava um feroz e maldoso dragão faminto pronto para me engolir.
Muitas vezes, nas primeiras semanas, eu fugia da escola, ficava agarrado à minha bolsa de material escolar como se ela fosse um escudo protetor que me separasse da solidão e maldade do mundo, ficava perambulando pelas ruas quentes por algumas horas até conseguir a coragem suficiente para voltar para casa.
Mais que a paciência e o carinho de dona Amélia, acabei sendo cativado pela descoberta das primeiras letras na cartilha Caminho Suave. E de um pequeno livro de histórias que recebi oportunamente para ler: a história da égua Potiá e seu filhote, o potrinho Pango. Muito ilustrado, poucas linhas, como tinha que ser.
Um dia – como eu da escola – Pango fugiu do curral e quando a noite veio ele se viu perdido e sozinho no mundo, até que a mãe o encontrasse e o levasse de volta. Frase final do livro: “E Pango nunca, nunca, nunca mais fugiu.”
Mas eu continuei fugindo. Não mais da escola, mas da minha vida, da minha solidão. A descoberta dos livros foi decisiva em minha vida, tornei-me um leitor voraz, insaciável, chegava a ler até dois livros por dia.
Herdei de papai a paixão de ler um bom livro policial.
Mergulhei num mundo totalmente exclusivo e particular, que não dividia com mais ninguém, meu, só meu, de mais ninguém. Creio ter lido mais de três mil livros em minha vida, e foi isso, exatamente isso, que me ajudou a pelo menos juntar os milhares de pedaços em que eu me fragmentara e ainda me fragmento em minha vida.
Porque, simplesmente, meu Ubatuba não existe mais, não há como voltar para ele. Não há mais como reintegrar meus pedaços e voltar a ser um ser humano de bem com a vida.
Quando anos atrás cometi o erro de lá voltar, visitado a casa da tia Jane.
Depois de algum tempo fui dar uma volta. Meu Perequê Mirim havia se tornado quase uma cidade, raros terrenos vagos, uma casa ao lado da outra nas poucas e estreitas ruas, desfigurada, irreconhecível, irreal como se fosse um sonho ruim, praticamente uma favela disfarçada atrás de altos muros individuais e egoístas.
Passei diante do que havia sido a casa que papai construíra para nós, não havia como vê-la. Mas, em minha mente, alma e coração, lá estava ela. Linda. Simples. Singela, Mas inconcebivelmente bela. Porque abrigara uma pequena parte de nossas vidas que constituía um pouco das lembranças em mim entesouradas.
Em minha memória, mesmo que em meus olhos enevoados pelas lágrimas eu nada visse, lá estava ela, maravilhosa, saudosa, dolorosa.
Na varandinha, papai em sua rede, lendo a Folha de São Paulo. Baixava o jornal, fitava-me amorosamente, olhos brilhantes, um sorriso amigo que iluminava e engrandecia o meu dia, e murmurava seu sempre constante
“-Tudo bem, chefe?”.
No quintal da casa da tia Jane busquei o riachinho que tantos anos atrás fornecia a água pura para o consumo da família de vovô João de Deus.
Procurei o filete d’água que em alguns pontos se acumulava em algumas curvas e criava poços com cerca de dez, quinze centímetros de profundidade, onde eu e tio Nelson, com peneiras, pegávamos piabas, os peixinhos cor de ouro que gostávamos tanto.
Estarrecido deparei-me com um fluxo fétido, negro, contaminado, o puro esgoto in natura que o tornaram, que o mataram. Como mataram a presença de Deus. Como mataram minhas esperanças de voltar um dia para alguma coisa que ainda me valesse a pena, que talvez me desse uma razão maior pela qual viver.
Naquele entardecer, quase anoitecer, caminhei até a praia deserta onde me sentei na areia.
Olhei inutilmente em torno, não encontrei o rancho de canoa de igaibira de vovô João. Um sorriso triste e doloroso arqueou meus lábios. Não havia rancho. Não havia canoa. Nem eu próprio existia mais, de certa forma, quanto mais aqueles que me haviam sido tão caros, tão amados, tão necessários e que, no entanto, ali estavam bem a meu lado, ali continuavam bem a meu lado.
Braços cruzados em volta dos joelhos, foi somente uma questão de tempo muito curto para que as lágrimas explodissem, sem a menor possibilidade de me lavar a alma e o coração.
Quando fui embora, foi com a decisão de nunca mais voltar.
V
Mesmo passados tantos anos, tempo demais, as lembranças estão vívidas em minha memória.
No terreiro de terra imaculadamente limpo, varrido todo dia, trajando um vestido simples e um grande chapéu de palha que a protegia do sol quente, vovó Maria caminhava lentamente trazendo uma peneira nas mãos e jogando milho para as galinhas que criava soltas.
“Ti-ti-ti-ti-ti-ti-tiiiiiii” – era a música-chamado que sempre entoava repetida vezes sem conta, e as galinhas corriam, alvoroçadas.
Não preciso fechar os olhos para ver, bem à minha frente, o cercadinho de suas plantas de temperos, fechado através de pedaços de rede de pesca marrom que eram sustentados por pedaços de bambu. Ali havia temperos de todas as espécies, plantados por ela mesma, presença que se repetia na maioria das casas dos caiçaras. Tia Ana, na praia do Saco da Ribeira, também tinha o seu.
Coentro, salsinha, manjericão, tantas outras coisas que eu desconhecia. E a rainha de todas as especiarias caiçaras: a alfavaca.
Que não só perfumava tudo ao redor, mas dava a seus pratos simples o sabor inigualável e impossível de ser copiado pelos chefs de hoje mais experientes e requintados.
Não preciso fechar os olhos, também, para ver minha avó materna muito amada parada à minha frente, sorrindo com enlevo, olhos brilhando boas vindas, dizendo que eu era querido e esperado, transpirando até incredulidade que eu estava realmente chegando à sua casa que se tornava e sempre foi também minha, tão minha.
Abraçava-me com sofreguidão, um abraço sentido que revelava saudade, a importância que eu lhe tinha e o que eu lhe significava. Eu, seu primeiro neto.
Eu correspondia a seu abraço, sem ela saber que na realidade quem precisava de alguém ali era eu, não ela. Um abraço forte e sofrido, que significava simplesmente “que falta você me faz”.
Beijava seu rosto tão lindo, tão querido, tão especial, onde em seus olhos brilhavam duas lágrimas que não eram de tristeza.
E então ela sorria mais uma vez para mim, meu mundo preto e branco se coloria instantaneamente em miríades de cores indescritíveis que não tinha quando estava longe dali, imerso em minha saudade incontornável e sempre constante, mesmo que, às vezes, adormecida.
- Já almoçou? – perguntava.
- Ainda não, vovó. Acabei de descer do ônibus.
Ela me pegava pela mão, esquecida muitas vezes das galinhas, do que estava fazendo ou do que ia fazer, o importante, para ela, era agora o seu neto que havia voltado para ela, que ali estava para ela.
- Não tenho muita coisa... – principiava, preocupada e envergonhada.
Envergonhada. Como se pobreza fosse motivo válido para vergonha, como se pobreza fosse uma opção, uma escolha, e não a realidade infeliz e tão asfixiante que assolava os meus caiçaras.
- Não se preocupe, vovó – eu lhe respondia. – Sinto falta de sua comida, o que tiver estará ótimo.
Ela entrava na pequena cozinha, acendia o fogo, agora no fogãozinho a gás.
É, o discutível progresso, o discutível significado de progresso, estava chegando a meu Ubatuba. E começando a acabar com ele, mesmo que não o soubéssemos então.
Ficávamos conversando enquanto ela aquecia saborosas postas de peixe.
Corvinas, robalos, peixe-galo, peixe-porco, garoupas, cação, tantos outros naquela diversidade que então era o mar de Ubatuba. Nunca havia mais de duas variedades, geralmente uma só, mas era suficiente.
Eu mergulhava deliciado naquela gama de aromas que se desprendiam da panela e que só encontrava ali, só ali, em lugar algum mais. Poderia correr o mundo todo, o mundo inteiro, e somente ali eu estaria realmente voltando para casa, de volta para minha casa.
Era quase um ritual. Não, era um ritual. Sagrado. Num prato de alumínio vovó despejava o caldo de peixe fervente, com cuidado e prática adicionava a saborosa e inigualável farinha de mandioca de Ubatuba que eles mesmos fabricavam, fazia um pirão ao qual acrescentava duas postas de peixe. E então estendia suas mãos plenas de amor e me entregava o prato, desculpando-se por não ter nada para oferecer como bebida. Como se fosse preciso.
Eu me sentava no vão da porta, na soleira de madeira carcomida de sua casinha de pau-a-pique e sape, mesmo havendo sempre um banco ao lado.
E comia com apetite, devorava aquela comida simples com gula, querendo mais. Mas sabia também que não havia mais, não o fazia, se a pedisse ela iria faltar à noite para seu parco jantar.
- Vou matar uma galinha para comemorar sua chegada – confidenciava, com seu sorriso lindo que explodia em seus olhos.
Eu me levantava, entregava-lhe o prato vazio e raspado, abraçava-a e sempre respondia:
- Não precisa, vovó... O que a coitada da galinha tem com a minha chegada? Peixe está ótimo.
- Então amanhã vou lhe fazer um azul-marinho.
Azul-marinho, prato típico caiçara: peixe temperado principalmente com alfavaca. Ali eram colocados pedaços de banana nanica bem verde, que eram cozidos junto. Depois o pirão completava o prato.
Eu a beijava, ela me envolvia em seus braços, o mundo deixava de existir lá fora.
- Então amanhã eu compro o peixe, vovó – dizia-lhe.
Conversávamos mais um empo, então eu levava minha malinha para um dos quartos na casa que papai construíra abaixo, ao lado da qual plantara seu pé de Murta, sua árvore preferida. Só anos depois vovó conseguiu construir sua casa de alvenaria ao lado da nossa.
Mas isso teve um grande preço: a dissolução de sua família. Meus tios tiveram que ir para Santos, em busca de melhores (?) condições de vida.
Começaram a ter dinheiro. Tristemente acompanhado pelo alcoolismo que se acentuava a cada dia, e muitas vezes seguindo os tortuosos caminhos errados da vida.
Meu tio Lauro, anos depois, teve que sair de Santos e se refugiar com o filho Laurinho em Ipeúna, meu primo estava perdido no mundo das drogas e nas más companhias. Foi assassinado depois num acerto de contas onde tio Lauro também foi muito ferido quando tentava defender e salvar o filho. Tio Lauro sobreviveu, mas acabou morrendo algum tempo depois. De saudade.
Tio Neco, por sua vez, também se envolveu em más companhias, tornara-se pescador num dos barcos do porto de Santos. Um dia apareceu inesperadamente em nossa casa em Araraquara, fugindo do que poderia ter sido um crime de morte numa briga de bar.
Nunca o soube com certeza. Ou, talvez, não o quisesse saber.
O fato é que, anos depois, enlouquecido, em seu leito de morte se agitava ferozmente, tentando afastar com as mãos alguém que só ele via.
E gritava, apavorado, vezes sem conta:
- Não... você não... você não... vá embora... vá embora... me deixe...
Por mais que me doesse eu preferia acreditar, gostava de acreditar, precisava acreditar, que a canoa de igaibira de vovô João de Deus às vezes vinha buscar alguém da família.
Porque começaram a voltar vazias as canoas de tia Dolores, de tio Jango, de tio Lauro, de Laurinho, de tio Neco...
Vovó Maria da Graça felizmente partiu antes, não teve que sofrer por tanta coisa ruim que aconteceu depois.
Como se fosse um desvario, um sonho que eu sonhava dolorosamente acordado, eu subornava meu sofrimento, eu podia vê-la sentada na canoa de igaibira que vovô João de Deus remava, levando-a para um lugar maravilhoso onde sempre estariam juntos dali para frente.
Vovó sorria e me acenava, não como se despedindo, mas me dizendo e revelando que estaria sempre me esperando do outro lado da vida quando chegasse o momento de minha canoa voltar vazia.
(continua)
